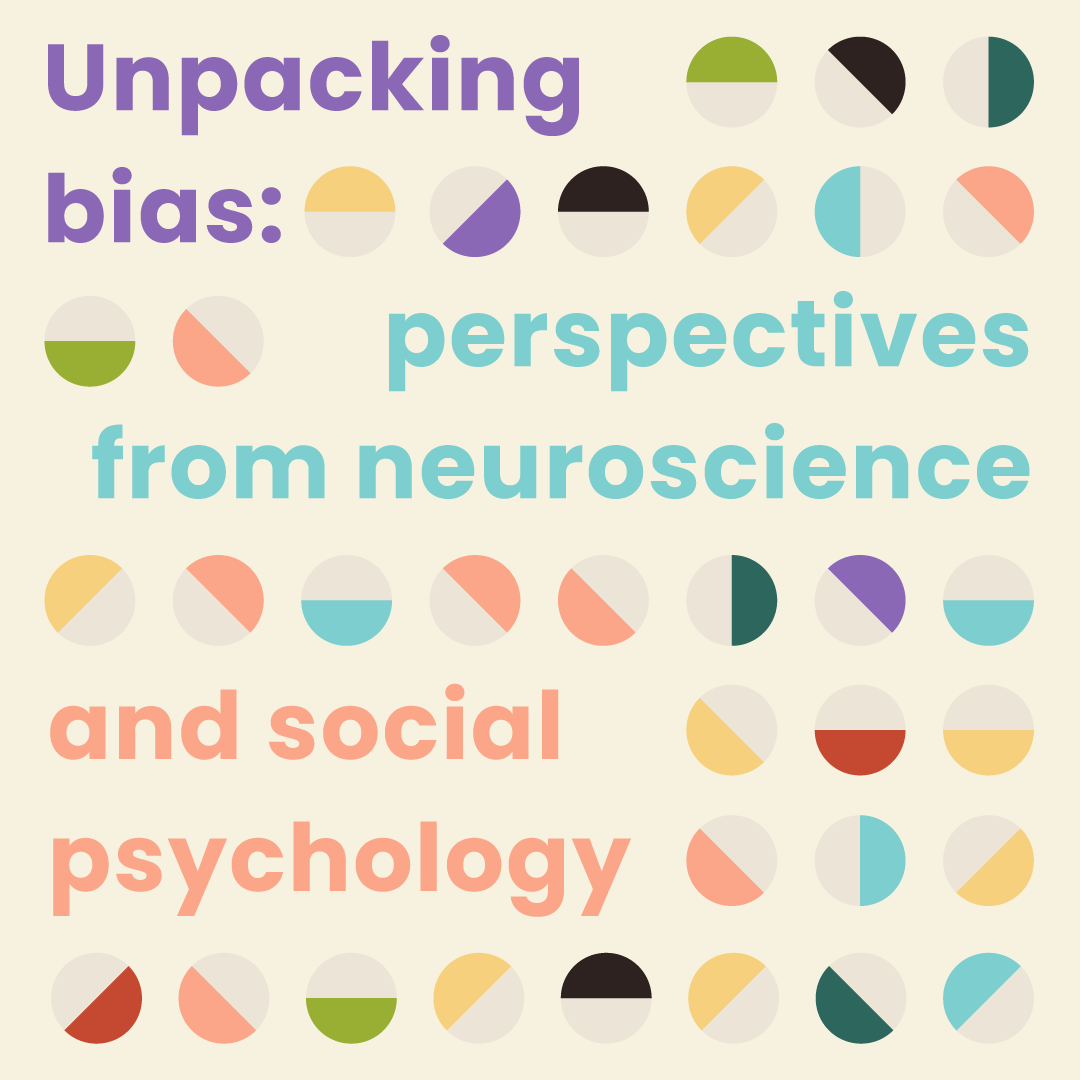As pessoas não nascem racistas. Mas à medida que as crianças crescem, o seu cérebro, que é uma máquina de gerar associações, detecta e subconscientemente aprende, através das interacções sociais, a associar diferentes grupos de pessoas a diferentes atributos, que podem ser positivos, neutros ou negativos. E quando esses atributos dizem respeito a minorias étnicas, as associações negativas geram estereótipos raciais e racismo.
“Às vezes [durante o processo de associação], os nossos cérebros criam atalhos errados que podem tornar-se nocivos”, explicou Megan Carey, investigadora principal do laboratório de Circuitos Neurais e Comportamento na Champalimaud Research (CR), durante um evento online intitulado “Revelando preconceitos: perspectivas da neurociência e da psicologia social” (Unpacking bias: perspectives from neuroscience and social psychology), que decorreu a 17 de Junho no âmbito da iniciativa de outreach “Ar Events”.
O primeiro orador convidado do serão, Ricardo Rodrigues, Psicólogo Social do Desenvolvimento no ISCTE/Instituto Universitário de Lisboa, deitou completamente abaixo a noção popular segundo a qual as crianças em idade escolar seriam menos racialmente enviesadas e preconceituosas do que as pessoas mais velhas.
Com base em estudos realizados no seu laboratório, junto de crianças brancas de quatro a dez anos, Ricardo Rodrigues chegou à surpreendente conclusão (surpreendente para o público) de que não só as crianças “estão cientes das categorias sociais a partir dos quatro anos, mas que pouco tempo depois adquirem identidade e preferência de grupo, sabem quais são os estereótipos de grupo aos seis-sete anos.
Em público, disse ainda Ricardo Rodrigues, enquanto as crianças de cinco a sete anos tendem a “reforçar a expressão do seu viés racial”, as mais velhas (oito a dez anos) já aprenderam a escondê-lo e a expressar-se em conformidade com a norma anti-racista expectável em sociedade… excepto quando pensam que ninguém as está a ver. De facto, as crianças atingem o seu mais elevado nível de preconceito racial, de toda a vida, aos sete-oito anos de idade! A sabedoria popular caiu por terra.
“Quais são as origens do viés racial nas crianças?”, perguntou Ricardo Rodrigues. Há três respostas principais: “a atitude dos pais, a dos professores e a estrutura enviesada das nossas sociedades”. As crianças não nascem racistas; somos nós que as ensinamos a tornar-se racistas desde muito cedo.
Há formas de contrariar isto? Podem as crianças desaprender o racismo? “A dessegregação da escola e da comunidade, os contactos positivos entre grupos, programas de ensino escolar anti-racista, debate aberto sobre o racismo explicitamente incluído no programa de ensino da escola”, enumerou Ricardo Rodrigues, “são estas as respostas”.
Podemos nem sequer ter consciência dos nossos vieses raciais
Porém, a realidade é mais complexa: acontece que, apesar do viés racial ser em parte aprendido de forma explícita, essa aprendizagem também ocorre de forma subconsciente. Por outras palavras, a atitude dos pais, a dos professores e a estrutura enviesada das nossas sociedades também dão origem a vieses ditos “implícitos”, dos quais quase não temos consciência alguma. E, precisamente por isso, os vieses implícitos podem ser muito mais difíceis de desaprender do que os explícitos.
Mais isso não significa necessariamente que sejam impossíveis de desenraizar. Tal Como disse, durante a sua intervenção inicial, Jovin Jacobs, estudante de doutoramento em Neurociências no laboratório de Megan Carey – e Mestre de Cerimónia (MC) do evento –, o primeiro passo para qualquer solução é reconhecer que somos parte do problema.
E mais à frente na vida? O que acontece aos nossos vieses implícitos quando atingimos a idade adulta? Somos capazes de admitir que possamos ser um bocadinho racistas ou recusamos liminarmente a ideia? Temos vieses de género, de orientação sexual? Temos vieses dos quais nem sequer estamos cientes? Para conhecer melhor os nossos vieses implícitos, podemos, por exemplo, fazer um teste chamado IAT (Implicit Association Test), disponível no site do Project Implicit da Universidade de Harvard.
Em poucas palavras, o IAT baseia-se na comparação dos tempos de resposta das pessoas durante diferentes tarefas de associação de conceitos e atributos e é suposto revelar associações mentais inconscientes – ou seja, implícitas. A validade do teste tem gerado controvérsia em termos da sua capacidade de prever como as pessoas irão de facto comportar-se, e as implicações éticas da auto-interpretação são questionáveis, mas os resultados poderão, mesmo assim, abalar profundamente o que pensamos de nós próprios.
A expressão “viés implícito” foi inventada em 1995 pelos psicólogos sociais norte-americanos Mahzarin Banaji e Anthony Greenwald, que argumentaram que o comportamento social é em grande parte influenciado por associações e juízos subconscientes. E, embora o IAT tenha limitações bem conhecidas, os especialistas concordam geralmente em dizer que o viés implícito é um fenómeno bem real. “Há uma montanha de resultados, independentes de qualquer teste em particular, que mostram que o viés implícito é real”, escreveram Keith Payne – professor Psicologia e Neurociências na Universidade da Carolina at Chapel Hill – e vários colegas, em Março de 2018, na revista Scientific American.
Pistas vindas das neurociências
Foi dando como exemplo um processo específico de aprendizagem motora que Megan Carey, a segunda oradora convidada deste evento Ar, escolheu ilustrar a força dos processos inconscientes de aprendizagem que decorrem no cérebro.
A experiência consiste em mostrar o mundo aos participantes (neste caso, estudantes voluntários) literalmente através de uma lente distorcida, pedindo-lhes para acertar num alvo com uma bola. Após terem treinado brevemente a pontaria (conseguindo facilmente atingir o alvo), os participantes colocam uns óculos prismáticos especiais que deslocam para a esquerda o mundo físico que vêem.
No princípio, isto faz com que não consigam acertar no alvo, porque desviam o lançamento para a esquerda, mas passados uns minutos, aprendem gradualmente a ajustar os seus lançamentos e tornam a acertar no alvo. Durante a terceira parte da experiência, retiram os óculos e eis que os participantes começam novamente a falhar o alvo! Desta vez, porém, os seus erros são no sentido oposto, e os seus lançamentos batem à direita do alvo. E, mais uma vez, após uma série de tentativas, voltam a acertar no alvo. Mas o que é surpreendente é que demoram o mesmo tempo a aprender gradualmente a voltar a bater no alvo sem os óculos que o que demoraram a aprender gradualmente a fazê-lo quando tinham os óculos postos – e que isso acontece apesar da experiência de toda a vida, que têm, de fazer pontaria em condições normais. “Esta forma de aprendizagem é muito poderosa e quase totalmente inconsciente”, disse Megan Carey. “O cérebro está constantemente a actualizar o nosso modelo do mundo.”
A questão que se coloca é a de saber se será possível contrariar o processo implícito utilizando estratégias explicitas. Imaginem, prosseguiu Megan Carey, que uma vez os óculos colocados, fornecemos aos participantes uma estratégia de compensação explícita, dizendo-lhes que os óculos estão a deslocar o alvo numa certa distância para a esquerda e que, para acertar nele, devem apontar os seus lançamentos a essa mesma distância para a direita. “Se os participantes seguirem correctamente as nossas instruções, vão acertar logo no primeiro lançamento, sem cometerem qualquer erro.” A estratégia parece portanto funcionar.
Mas a seguir, acontece algo inesperado: se os participantes continuarem a lançar a bola, os seus lançamentos começam então a afastar-se gradualmente do alvo! Estes resultados foram inicialmente reportados por John Krakauer, da Universidade Johns Hopkins, utilizando uma tarefa que consistia em deslocar um cursor num ecrã de computador. “Nós adaptámo-la aos óculos prismáticos”, disse Megan Carey.
“O que está a acontecer aqui”, explicou a cientista, “é que, sem os participantes darem por isso, o seu cérebro está de facto a tentar resolver o conflito entre o que vê e o movimento que o braço faz ao atirarem a bola. Este é um poderoso tipo de aprendizagem implícita que supera as estratégias explícitas para o contrariar”, concluiu.
Embora fazendo notar que não estava “totalmente à vontade para extrapolar estes resultados à questão dos viés implícito”, Megan Carey achou contudo que a comparação com os viés cognitivo é válida na medida em que, também em muitas situações da vida real, “vemos de facto o mundo através de lentes distorcidas sem sermos conscientes dos erros que isso nos obriga a cometer”. Mas há uma boa notícia, segundo a investigadora, que é que “quando nos damos conta dos erros que causam, podemos acabar por conseguir aprender a ultrapassar os nossos pressupostos cognitivos implícitos”. Tornou contudo a enfatizar que a conscientização é um primeiro passo essencial.
Desenviesar o viés racial
Como é que isso poderia ser feito? Durante a última parte da noite, aos oradores convidados juntaram-se online a Iolanda Évora, psicóloga social de dupla nacionalidade portuguesa/cabo verdiana da Universidade de Lisboa, e Joana Sá, a especialista de engenharia física do Instituto Superior Técnico, para debater o tema e responder às perguntas do público.
Todos concordaram em dizer que, mesmo num país relativamente progressista como Portugal, o racismo está enraizado na sociedade. “Temos de desaprender o viés, no nosso cérebro e enquanto sociedade, e o viés social é mais difícil de superar”, fez notar Megan Carey.
Chegou-se a pensar que a inteligência artificial (IA) poderia ajudar a desenviesar o mundo, ao aplicar “critérios objetivos” à tomada de decisão. Mas, como salientou Joana Sá, os algoritmos de IA revelaram-se tão enviesados como os dados humanos utilizados para os treinar. “Os algoritmos eliminam os casos excepcionais e, do ponto de vista social, isso quer dizer que eliminam as minorias. Um sistema de IA dir-nos-á que um CEO é sempre um homem branco”, fez notar Joana Sá a propósito dos algoritmos utilizados pelas empresas para seleccionar candidatos potenciais a um emprego.
Mas virando o problema do avesso, sugeriu ainda que os algoritmos de IA “poderiam ser uma ferramenta fantástica para identificar os vieses estruturais humanos”, ao detectar padrões nas nossas acções passadas. Seja como for, a questão que se coloca é a de decidir quem define as novas regras – e, embora o “remendo” possa ser simples (por exemplo, acrescentar uma linha de código), o poder de decidir como alterar os algoritmos no deve ficar apenas nas mãos dos programadores.
Uma forma prática de tentar desenviesar a sociedade, enfatizou Ricardo Rodrigues, seria “expor as crianças à diversidade desde muito cedo e, obviamente, tentar utilizar narrativas menos enviesadas no ensino da História de Portugal, por exemplo”.
Mas isto seria de longe insuficiente, contrapôs Iolanda Évora, porque o problema do viés racial é muito mais profundo: na escola, a questão racial não é vivida da mesma maneira pelas crianças negras e ciganas, quando comparadas com as crianças brancas. “As crianças brancas não são racializadas”, disse Iolanda Évora. Ou seja, ser branco não constitui um problema para elas, porque é a norma. “Mas as crianças negras e ciganas são. Para elas, a escola é o primeiro lugar do esmagamento do ego”.
Ricardo Rodrigues concordou: ao contrário das crianças brancas, as crianças negras e ciganas “passam o tempo a lidar com a estigmatização da sua identidade e a sentir que valem menos.” E o facto de os professores serem maioritariamente brancos frequentemente não ajuda estas crianças a aumentar as suas hipóteses de adquirir uma visão positiva.
O MC Jovin Jacobs encerrou o evento com uma dose de esperança no futuro e uma pitada de humor: expressou o desejo de conseguirmos desenviesar o mundo para que um dos papéis mais visíveis que ele próprio desempenhou neste evento, o de “homem negro de serviço” (“token black guy”) se torne obsoleto.
Por Ana Gerschenfeld, Health & Science Writer da Fundação Champalimaud.